
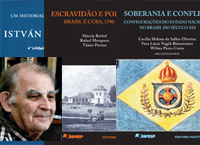
István Jancsó é homenageado em lançamento de livros nesta quinta-feira (12/8). Três são resultados do Projeto Temático que coordenou sobre a fundação do Estado e da nação brasileiros (divulgação)
István Jancsó é homenageado em lançamento de livros nesta quinta (12/8). Três são resultados do Projeto Temático que coordenou sobre a fundação do Estado e da nação brasileiros e o outro narra a vida e a trajetória intelectual do historiador que morreu em março
István Jancsó é homenageado em lançamento de livros nesta quinta (12/8). Três são resultados do Projeto Temático que coordenou sobre a fundação do Estado e da nação brasileiros e o outro narra a vida e a trajetória intelectual do historiador que morreu em março
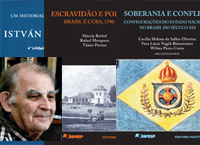
István Jancsó é homenageado em lançamento de livros nesta quinta-feira (12/8). Três são resultados do Projeto Temático que coordenou sobre a fundação do Estado e da nação brasileiros (divulgação)
Por Alex Sander Alcântara
Agência FAPESP – O historiador István Jancsó, que morreu em março aos 71 anos, costumava dizer aos seus alunos que analisar a nação era como encaixar “peças de um mosaico”. A analogia se referia ao papel do historiador em compreender nexos históricos e, em particular, remetia ao esforço que o próprio Jancsó empregou para compreender a relação entre Estado e nação.
O Projeto Temático “Fundação do Estado e da nação brasileiros (1780-1850)”, que coordenou de 2004 a 2009 com apoio da FAPESP, buscou compreender melhor os nexos da construção do Estado imperial e os caminhos pelos quais múltiplas identidades regionais presentes na América portuguesa se desdobraram em uma nova forma de identidade nacional no século 19.
O esforço interpretativo de Jancsó – que foi professor titular no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de São Paulo (USP) – é lembrado por pesquisadores, amigos e parceiros, que lançam livros nesta quinta-feira (12/8) no Centro Universitário Maria Antonia da USP.
Três deles são obras desenvolvidas no âmbito do Temático e trazem pesquisas feitas por integrantes do projeto – os três tiveram apoio da FAPESP por meio da modalidade Auxílio à Pesquisa – Publicações. O quarto apresenta depoimentos do professor.
De acordo com Wilma Peres Costa, professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus de Guarulhos, os três primeiros títulos recuperam e expandem hipóteses interpretativas desenvolvidas no Temático, como a coletânea Soberania e conflito: configurações do Estado Nacional no Brasil do Século XIX, da qual é uma das organizadoras.
“Soberania e conflito tem um grande fim em si mesmo. Os temas dos outros lançamentos estão, de certa forma, contidos ali, sobretudo porque faz um diálogo também com o primeiro livro lançado no âmbito do Temático, em 2003 [Brasil: a Formação do Estado e da nação (1780-1850)]. Ao mesmo tempo, o novo livro revela o quanto avançamos nas discussões sobre os temas Estado e soberania, um dos eixos do projeto”, disse Wilma à Agência FAPESP.
Soberania e conflito reúne artigos que expõem novas perspectivas sobre três eixos problemáticos referentes ao processo de formação e estruturação do Estado nacional na primeira metade do século 19: a periodização da história do Império; as bases materiais e territoriais da organização político-administrativa; e os fundamentos e a dinâmica da monarquia constitucional.
Segundo Wilma, a hipótese central discutida no Temático e que também está presente no livro, desenvolvida com muitos recortes historiográficos pelos integrantes do projeto, é a de que a ideia corrente aceita do Estado como demiurgo não dá conta da complexidade do fenômeno da formação do Estado imperial e da nação brasileira.
“O objetivo foi propor interpretações, produzidas durante os anos de pesquisa do projeto, que ora complementam ora ultrapassam ou rediscutem em outro patamar os pressupostos do projeto”, disse.
Um exemplo são os nexos que o projeto estabeleceu entre escravidão e ordem liberal, que é o tema do livro Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850, de Márcia Berbel, Rafael Marquese e Tâmis Parron.
De acordo com Marquese, do Departamento de História da USP, ao fazer uma comparação com Cuba, o livro amplia o entendimento da escravidão nas Américas, em particular no caso brasileiro.
“Apesar de terem trilhado caminhos políticos distintos, a partir da década de 1820, Brasil e Cuba compartilharam sob vários aspectos, por conta do peso do escravismo, uma mesma história no século 19”, disse.
No Temático a escravidão foi uma peça-chave para investigar a formação do Estado nacional. “Uma possibilidade seria analisar somente o Brasil. Só que a história da escravidão ao longo do século 19 nas Américas não se desenrolou apenas por aqui”, explicou Marquese.
O contexto histórico, afirma, justifica a comparação. Brasil e Cuba partilharam um mesmo “espaço de experiência” na conjuntura de crise marcada pela independência dos Estados Unidos, pela emergência do movimento antiescravista britânico e por outros eventos históricos.
Outro ponto é que, de todas as possessões na América espanhola, Cuba e Porto Rico foram as únicas que não se separaram do Império espanhol entre 1808 e 1824. Todas as demais seguiram o caminho republicano.
“As razões que fizeram Cuba permanecer como colônia foram as mesmas que levaram o Brasil a permanecer unido e a se constituir como uma monarquia constitucional. E essas razões passam necessariamente pela escravidão”, disse Marquese.
Após 1820, Brasil e Cuba foram as únicas regiões do Novo Mundo que continuaram sendo alimentadas por um grande tráfico transatlântico de africanos escravizados. Cerca de metade dos escravos que atravessaram o Atlântico veio para o Brasil. Dos quase 5 milhões de escravos que chegaram ao país, 25% desembarcaram no período de 1822 a 1850.
Grão-Pará
O terceiro livro que será lançado e deriva do Projeto Temático, A quebra da mola real das sociedades: a crise políitica do Antigo Regime português na província do Grão-Pará, é fruto da tese homônima defendida em 2006 por André Roberto de Arruda Machado, sob orientação de Jancsó.
Em sua pesquisa, Machado fez um contraponto à ideia de que a Independência brasileira de Portugal ocorreu de maneira pacífica e que envolveu somente as elites da época. Ao contrário disso, o autor demonstra que, no Pará, as disputas políticas nesse período levaram a uma guerra civil que cobriu quase toda a província até 1825 e tinha como seus principais protagonistas negros e, sobretudo, índigenas.
Ao investigar a crise política do antigo regime português, iniciada em 1921, na província do Grão-Pará, o autor indica que a região passou por uma instabilidade que deixou incerto o seu destino. O Grão-Pará poderia continuar sob domínio português, poderia fazer parte do Brasil ou ainda funir-se a um Estado americano independente fora da órbita do Rio de Janeiro. “A ideia de que o país se forma a partir de um grande pacto entre as elites não se sustenta”, disse.
Segundo o autor, a integração do Pará ao Império do Brasil se dá, sobretudo, porque outros projetos políticos - como a reconquista por Portugal, por exemplo, - se inviabilizam. "Ao mesmo tempo no Pará ser defensor da independência e da união com o Rio de Janeiro poderia ter diferentes significados, já que para alguns grupos políticos esse era um projeto conservador, enquanto que outros aspiravam a essa solução com a esperança de subverter a ordem social", indica Machado.
Segundo Machado, uma das discussões mais pertinentes do livro é mostrar que, para os homens daquele período, o principal não era saber se o Pará faria parte do Brasil ou de Portugal ou se uniria a um outro Estado. “O mais interessante é mostrar que o centro da disputa era estabelecer que tipo de Estado iria se configurar, com que bases, que tipo de pacto social e que tipo de papel esses agentes iriam ter nesse novo Estado”, afirmou.
Crítica coletiva
O livro de depoimentos Um historiador do Brasil, István Jancsó teve a participação direta do próprio coordenador do Projeto Temático, que chegou a ter em mãos os originais da primeira versão do livro.
Os organizadores Andréa Slemian, Marco Morel e André Nicacio Lima colheram depoimentos de Jancsó de abril de 2007 a janeiro de 2009. Foram sete entrevistas, que correspondem às partes do depoimento.
“Começamos pela infância, quando a família [de Jancsó] foi expulsa da Hungria durante a 2ª Guerra Mundial pelas tropas soviéticas. Narramos a passagem dele como professor na Maria Antônia até sua saída, por conta do golpe de 1964, para lecionar na Universidade Federal da Bahia”, disse Andréa, pós-doutoranda no IEB-USP com Bolsa da FAPESP.
Segundo ela, a obra traz também reflexões sobre a historiografia nas décadas de 1950 e 1960, sobretudo porque um dos objetivos do livro era dar ênfase à trajetória de Jancsó como historiador.
“Ele sempre se considerou um historiador de linhagem marxista. Apesar disso, não admitia que o rotulassem de ‘comunista’. Dizia que era um homem de esquerda. Nunca se identificou com os comunistas por uma questão pessoal, porque para ele comunistas foram os que entraram na Hungria e não os que foram expulsos de lá”, disse Andréa.
Narrado em tom de conversa, o livro traz, além de uma multifacetada narrativa de um historiador sobre sua trajetória, detalhes curiosos como a tese que começou a redigir na França na década de 1970 e que foi apreendida pelos militares quando retornou ao Brasil. Trabalho que não foi mais recuperado.
Outros destaques foram a participação de Jancsó no movimento operário paulista na consolidação do movimento Oposição Sindical, conhecido como OP, e o momento em que se tornou diretor de recursos humanos de uma multinacional fabricantes de motores, a MWM. Os entrevistadores questionaram se não seria uma contradição na trajetória do professor.
“Ele disse que contraditória era a própria realidade. Precisava do emprego por uma questão de sobrevivência, e nunca feriu seus princípios. Contou que fez o que pode para dar melhores condições aos funcionários, como assistência médica, refeitório, formação e uma negociação direta com a direção”, disse.
O livro traz também um rico material iconográfico, além do bibliográfico. “Não tivemos a intenção de fazer uma obra crítica. Apesar de ter escrito pouco, o professor Jancsó deixou uma importante contribuição como historiador, principalmente ao pensar as questões que desenvolveu sobre os séculos 18 e 19”, afirmou Andréa.
O Projeto Temático coordenado por Jancsó gerou mais de 30 livros, além de seminários, teses, dissertações e a revista Almanack Braziliense, que reúne a contribuição à historiografia brasileira que é feita continuamente por estudiosos envolvidos com os estudos do tema.
Jancsó também foi um dos mentores da Biblioteca Brasiliana, projeto que inclui a construção de uma biblioteca na USP e a digitalização de cerca de 40 mil volumes que integravam a Biblioteca Guita e José Mindlin, doada à USP em 2006.
“Ele tinha preocupação com o trabalho coletivo e em democratizar o conhecimento. Sempre privilegiou a importância de uma crítica coletiva. Os seminários e livros que organizou prezavam um pouco por isso”, destacou Andréa.
O lançamento será a partir das 19h30, no Centro Maria Antônia da USP, localizado na rua Maria Antonia, 294, Vila Buarque.
- Título: Um historiador do Brasil, István Jancsó
Autores: Andréa Slemian, Marco Morel e André Micásio Lima
Páginas: 402
Preço: R$ 63
- Título: Soberania e conflito: configurações do Estado Nacional no Brasil do Século XIX
Organizadoras: Cecília Helena de Salles Oliveira, Vera Lúcia Nagib Bittencourt e Wilma Peres Costa
Páginas: 496
Preço: R$ 58
- Título: Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850
Autores: Márcia Berbel, Rafael Marquese e Tâmis Parron
Páginas: 396
Preço: R$ 47
- Título: A quebra da mola real das sociedades: a crise política do Antigo Regime português na província do Grão-Pará
Autor: André Roberto de Arruda Machado
Páginas: 326
Preço: R$ 48
Mais informações: www.huciteceditora.com.br
Republicar
A Agência FAPESP licencia notícias via Creative Commons (CC-BY-NC-ND) para que possam ser republicadas gratuitamente e de forma simples por outros veículos digitais ou impressos. A Agência FAPESP deve ser creditada como a fonte do conteúdo que está sendo republicado e o nome do repórter (quando houver) deve ser atribuído. O uso do botão HMTL abaixo permite o atendimento a essas normas, detalhadas na Política de Republicação Digital FAPESP.





