

Diretor do Sanford Integrated Space Stem Cell Orbital Research Center (ISSCOR), Alysson Muotri se candidatou para ir ao espaço (foto: Erika de Faria/Temporal Filmes)
Durante a Escola Interdisciplinar FAPESP, Alysson Muotri, professor da Universidade da Califórnia em San Diego, contou seus planos de viajar para a Estação Espacial Internacional para testar extratos de plantas contra doenças neurodegenerativas
Durante a Escola Interdisciplinar FAPESP, Alysson Muotri, professor da Universidade da Califórnia em San Diego, contou seus planos de viajar para a Estação Espacial Internacional para testar extratos de plantas contra doenças neurodegenerativas
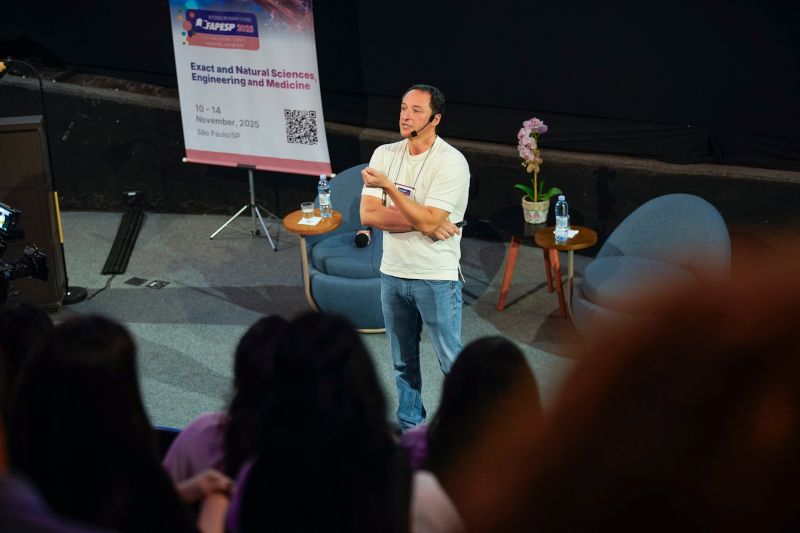
Diretor do Sanford Integrated Space Stem Cell Orbital Research Center (ISSCOR), Alysson Muotri se candidatou para ir ao espaço (foto: Erika de Faria/Temporal Filmes)
André Julião | Agência FAPESP – Em 2019, o grupo do pesquisador Alysson Muotri, professor da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia em San Diego, em parceria com a Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa), enviou “minicérebros” para a Estação Espacial Internacional. Também conhecidos como organoides, os minicérebros são conjuntos esféricos de células neurais que se autorganizam e mimetizam o funcionamento do cérebro humano.
O objetivo do experimento foi subsidiar a busca por tratamento de condições neurológicas e doenças degenerativas. Depois de 30 dias, os minicérebros apresentavam envelhecimento acelerado pelas condições de microgravidade do espaço.
O grupo de Muotri observou que o envelhecimento do cérebro causa, entre outras mudanças, uma resposta autoimune aos trechos de DNA retroviral que todos os humanos carregam como resultado da evolução, o que poderia ser uma das causas do Alzheimer e outras condições neurológicas. A descoberta suscitou possibilidades, como o uso de medicamentos antirretrovirais para tratar essas condições.
Muotri, no entanto, queria ir além. Diretor do Sanford Integrated Space Stem Cell Orbital Research Center (ISSCOR), ele se candidatou para ir ao espaço, pessoalmente, e realizar experimentos com os “minicérebros”. A ideia era testar extratos de plantas da Amazônia com efeitos neuroativos para condições como o Alzheimer. Os preparativos para a missão estavam em andamento quando o governo norte-americano cortou massivamente recursos para a ciência, paralisando a missão.
Um dos palestrantes da Escola Interdisciplinar FAPESP: Ciências Exatas e Naturais, Engenharia e Medicina, Muotri concedeu uma entrevista na quarta-feira passada (12/11) à Agência FAPESP. Os principais trechos podem ser conferidos a seguir:
Agência FAPESP – Como foram seus estudos com plantas da Amazônia no espaço?
Alysson Muotri – Começamos uma colaboração com Spartaco Astolfi Filho, professor na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), onde temos essa parceria com algumas das tribos originárias, principalmente os Huni Kuins. Nela buscamos isolar moléculas de plantas que possam ter princípios neuroativos. Buscamos uma curadoria de plantas que possam ter um benefício medicinal clínico. Vamos testar a eficácia terapêutica de algumas dessas moléculas, tanto como neuroprotetoras quanto na capacidade de tratamento para o Alzheimer. Isso será feito pelo uso de modelos baseados em células-tronco de pessoas com Alzheimer. Nós criamos o tecido cerebral em laboratório a partir de células dessas pessoas. E para ter o efeito de envelhecimento, esses tecidos são cultivados na Estação Espacial Internacional. Quando eles retornam, sofrem o que chamamos de Senescência Neural Induzida pelo Espaço [SINS], que é uma forma de envelhecimento acelerado. Então conseguimos envelhecer esse tecido neural em alguns anos, algo que seria praticamente impossível de fazer na Terra em um período curto de tempo. As moléculas de plantas serão testadas diretamente nesses tecidos neurais na Estação Espacial Internacional. Para fazer isso, precisamos criar uma equipe de cientistas-astronautas que sejam treinados para fazer esse trabalho. Então, parte do projeto vai ser feita no espaço, em órbita, com esse primeiro time de cientistas-astronautas, onde esperamos ver uma participação brasileira muito forte. Eu seria o primeiro, passaria dez dias, e outro cientista me substituiria em seguida.
Agência FAPESP – Como estão os preparativos?
Muotri – A gente estava com tudo pronto para começar esses experimentos quando mudou a administração do governo americano, com grandes cortes de recursos, inclusive da Nasa [agência espacial americana], mas também de todas as agências de fomento à ciência. Isso desacelerou nossa pesquisa. A demora na nomeação de um presidente da Nasa também atrapalhou bastante. Só agora que temos um novo CEO. Então vamos ter que aguardar um pouco, ter um pouco mais de paciência até que a situação seja resolvida.
Agência FAPESP – Seria possível fazer esses experimentos apenas com financiamento privado?
Muotri – Acredito que sim, que conseguimos fazer isso independentemente da Nasa, trabalhando diretamente com agências espaciais privadas, como a SpaceX, a Axiom Space, a Vast, todas com interesse em nosso projeto. Estamos buscando outras parcerias da indústria farmacêutica, seguradoras e filantropia para tentar realizar esses experimentos. Veja só, a cura para o Alzheimer, ou mesmo um tratamento que seja parcialmente eficaz, gera uma economia enorme para o Estado, principalmente de países grandes como os Estados Unidos e o Brasil, o que justifica um alto investimento para a descoberta de novos fármacos. Outro aspecto interessante do trabalho com a Ufam e com os Huni Kuins é que, no caso de eventuais fármacos surgirem a partir dessas plantas, os royalties retornarão para a conservação da Amazônia e dos povos originários. Então, conseguimos amarrar isso de forma que a propriedade intelectual seja dividida, com um retorno para quem proporcionou esse conhecimento ancestral.
Agência FAPESP – Existem estudos clínicos em andamento derivados das descobertas do seu grupo. Quais são eles?
Muotri – Um resultado bem legal da exploração espacial trazendo conhecimento para a Terra foi com a síndrome de Rett. Descobrimos uma nova via molecular que ainda não tinha sido reconhecida como causal para essa síndrome e que pode ser bloqueada pelo uso de antirretrovirais. Ora, antirretrovirais, principalmente os usados para o HIV, são amplamente utilizados, são drogas baratas, e que podem ter um efeito benéfico para essa síndrome. Então, estamos começando um ensaio clínico, aqui no Brasil, para testar a eficácia de antirretrovirais contra a síndrome de Rett ou para atenuar os problemas dessa condição. É uma ideia um pouco diferente, usar um antirretroviral para o tratamento de uma doença neurológica, mas que faz todo o sentido com o conhecimento que foi revelado ao cultivar o tecido neural de pacientes da síndrome de Rett no espaço.
Agência FAPESP – Em 2022, seu grupo publicou um trabalho sobre uma possível nova terapia genética para a síndrome de Pitt-Hopkins, uma condição neurológica bastante severa. Vocês avançaram para a fase de estudos clínicos?
Muotri – O ensaio clínico está sendo preparado em colaboração com o doutor Fábio Papes, da Unicamp [Universidade Estadual de Campinas], uma vez que descobrimos um vetor para a terapia gênica que talvez possa reverter os sintomas da síndrome de Pitt-Hopkins [leia mais em: agencia.fapesp.br/38524]. Acabamos de ter a aprovação da FDA [agência americana que regula medicamentos] para seguir em frente com o recrutamento dos pacientes e o teste de eficácia desses vetores nos Estados Unidos. Então vamos entrar no que chamamos de fase 1, para avaliar a toxicidade, em que se vai dar uma dose baixa desses vetores retrovirais, carregando o gene correto, cuja alteração causa a síndrome de Pitt-Hopkins, e vamos observar se há efeitos tóxicos nesses pacientes. Passando a fase 1, entramos na fase 2, em que se avalia a eficácia. Se não for tóxico, será que ele tem algum benefício? Nessa fase é que vamos realmente observar qual a vantagem de usar uma terapia genética para essa síndrome. Então, uma vez aprovado, a gente começa a recrutar os pacientes já em 2026.
Republicar
A Agência FAPESP licencia notícias via Creative Commons (CC-BY-NC-ND) para que possam ser republicadas gratuitamente e de forma simples por outros veículos digitais ou impressos. A Agência FAPESP deve ser creditada como a fonte do conteúdo que está sendo republicado e o nome do repórter (quando houver) deve ser atribuído. O uso do botão HMTL abaixo permite o atendimento a essas normas, detalhadas na Política de Republicação Digital FAPESP.





